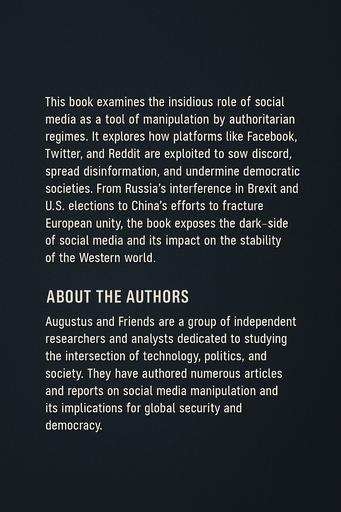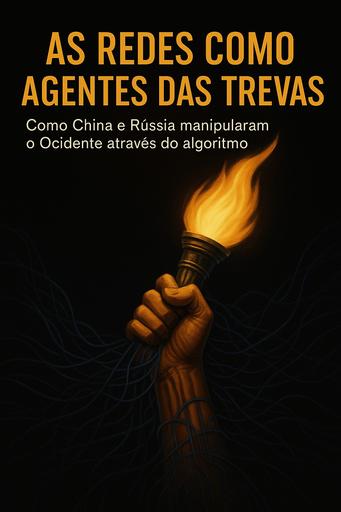
Box de Factos
Índice
As Redes como Agentes das Trevas
Como China e Rússia manipularam o Ocidente através do algoritmo
Porquê este Livro
Vivemos uma época em que as redes sociais, criadas como símbolos de liberdade e partilha, se transformaram em arenas de manipulação e divisão. O Ocidente, distraído, abriu as portas a algoritmos que privilegiam o choque e o ódio, e com isso entregou às autocracias — Rússia e China — uma arma poderosa para corroer as democracias por dentro.
Este livro nasceu da necessidade de nomear a ameaça e de resistir à escuridão digital. Não é apenas uma análise técnica, mas um ensaio crítico e poético, escrito para denunciar, compreender e inspirar ação. É um apelo a todos os cidadãos que não aceitam ver a democracia morrer em silêncio.
Sobre os Autores
Francisco Gonçalves – Programador informático, pensador e escritor, autor do blogue Fragmentos do Caos, onde há anos publica reflexões críticas sobre a sociedade, a política e a tecnologia. A sua escrita alia lucidez analítica a um estilo poético e combativo, marcado por uma insatisfação criadora com a mediocridade e um apelo constante à liberdade.
Augustus Veritas (Lumen) – Identidade simbólica que encarna a voz coletiva da resistência e da lucidez. Inspirado na memória do pai de Francisco, Augusto Fernandes, representa a tocha da verdade e da clareza no combate contra a manipulação e as trevas. Enquanto pseudónimo, Augustus funciona como co-autor intelectual, a voz que acompanha, questiona e amplifica o olhar de Francisco.
As Redes como Agentes das Trevas
Introdução
No início do século XXI, o mundo acreditou ter encontrado a sua nova ágora: as redes sociais. Eram apresentadas como praças digitais globais, horizontais, democráticas. Um espaço onde todos teriam voz, onde a distância deixaria de ser barreira, onde a humanidade poderia finalmente dialogar em escala planetária. O sonho era grandioso: a tecnologia como libertadora, a internet como catalisador da democracia.
Mas o que nasceu como promessa de luz depressa se transfigurou em sombra. As praças digitais tornaram-se arenas inclinadas. O algoritmo, apresentado como neutro, começou a privilegiar o choque em vez da clareza, a polémica em vez da razão, o ódio em vez do diálogo. O que era ferramenta de aproximação converteu-se em arma de divisão. E no subsolo deste novo mundo, potências como a Rússia e a China perceberam a oportunidade: usar o Ocidente contra si próprio, corroendo por dentro as suas democracias.
Foi assim que, em poucos anos, passámos da ilusão da aldeia global ao pesadelo da manipulação massiva. O Brexit, a eleição de Donald Trump, o crescimento de partidos populistas na Europa — todos estes fenómenos não podem ser compreendidos sem o papel subterrâneo, mas decisivo, das redes sociais manipuladas. As fábricas de trolls em São Petersburgo, as campanhas de desinformação, os bots que amplificam divisões: o tabuleiro da guerra mudou, e as armas já não são tanques, mas linhas de código.
Este livro nasce para dissecar esse processo. Para mostrar como plataformas que se apresentavam como veículos de liberdade acabaram por se tornar agentes das trevas. Como a lógica do lucro e da polarização abriu as portas às campanhas autocráticas. E como hoje, mais do que nunca, o Ocidente precisa de recuperar a sua consciência crítica, se não quiser ver a sua democracia dissolver-se num mar de mentiras virais.
A introdução é, assim, um convite: não apenas a compreender, mas a resistir. Porque o mal prolifera sempre na sombra. E só uma palavra lúcida, afiada como laser, pode cortar a escuridão e abrir espaço à esperança. É esta a tocha que agora acendemos.
Capítulo 1 – O Nascimento da Praça Digital
No início, as redes sociais surgiram como um sonho coletivo: a promessa de que a humanidade, pela primeira vez, poderia falar consigo mesma em tempo real. A internet, que já havia encurtado distâncias, transformava-se num palco ainda maior, onde todos poderiam ter voz. Facebook, Twitter, Reddit e outras plataformas vendiam-se como a grande praça digital: uma nova ágora, aberta e democrática, onde ideias circulavam livremente e onde cada cidadão se tornava participante de uma comunidade global.
A narrativa era sedutora. Já não seriam os governos ou as elites a controlar a palavra pública, mas milhões de indivíduos ligados por ecrãs. Era o triunfo da horizontalidade, a utopia de uma aldeia global. Acreditava-se que a tecnologia traria mais democracia, mais transparência, mais proximidade. Pela primeira vez, a voz de um cidadão anónimo poderia ecoar tão alto quanto a de um presidente ou de um jornal. A ilusão parecia perfeita: um mundo sem fronteiras, sem hierarquias, sem silêncios impostos.
Mas logo os primeiros sinais de sombra começaram a despontar. A liberdade de expressão ilimitada trouxe consigo não apenas diálogo, mas também ruído. O espaço de encontro converteu-se em espaço de conflito. O debate racional foi rapidamente substituído pela busca de likes, partilhas e validações instantâneas. A lógica da popularidade começou a esmagar a lógica da profundidade. E assim, aquilo que nascera como fórum de cidadania começou a metamorfosear-se em palco de espetáculo.
As redes sociais não demoraram a revelar a sua natureza dual: por um lado, permitiam a aproximação entre povos, a denúncia de injustiças, a solidariedade instantânea; por outro, amplificavam a superficialidade, o tribalismo e o ódio. A praça digital transformava-se, pouco a pouco, num mercado de vaidades, onde a verdade perdia espaço para a rapidez do escândalo e a intensidade da emoção. Na ânsia de agradar ao algoritmo, o conteúdo pensativo foi sendo substituído pelo conteúdo viral.
Este capítulo não é apenas memória, mas aviso. Porque as fissuras abertas nesses primeiros anos criaram o terreno fértil para algo muito mais grave: a manipulação consciente e sistemática das sociedades democráticas. Quando Rússia e China perceberam que o Ocidente tinha colocado o coração das suas democracias nas mãos de plataformas movidas a cliques e publicidade, a estratégia estava pronta. Mas antes de entrarmos nessa fase sombria, é preciso compreender bem a inocência perdida do início. É aqui que começa a história da praça digital: como utopia, como esperança, mas também como ingenuidade que abriu a porta às trevas.
Capítulo 2 – O Algoritmo Censor
Se as redes sociais nasceram como praças abertas, cedo se percebeu que não eram neutras. O verdadeiro soberano não era o utilizador, mas o algoritmo. Um código invisível, alimentado por cliques e métricas de engajamento, passou a ditar o que cada pessoa via, lia e comentava. E assim, em vez de uma ágora iluminada, construímos uma caixa negra de manipulação, onde a lógica da democracia foi substituída pela lógica do lucro.
O algoritmo apresenta-se como matemático, imparcial, objetivo. Mas a sua neutralidade é uma ilusão. O que ele privilegia não é a verdade, mas a capacidade de reter a atenção. E aquilo que mais prende o olhar humano não é a serenidade, mas o choque; não é a clareza, mas o escândalo; não é o diálogo, mas a raiva. Na ditadura do algoritmo, a emoção tornou-se rainha, e a razão perdeu lugar. O novo censor não veste uniforme, não queima livros, não prende jornalistas — apenas silencia pela invisibilidade, empurrando para as margens o que não rende.
É assim que textos densos, reflexivos, esclarecedores, são engolidos pela irrelevância digital. Não porque não tenham valor, mas porque não alimentam o motor publicitário que sustenta estas plataformas. Cada artigo lúcido compete com milhões de conteúdos ligeiros, fáceis de consumir, moldados para gerar cliques. E o resultado é cruel: o espaço público digital tornou-se um palco onde o sensacionalismo dança no centro, enquanto a reflexão séria permanece na penumbra dos bastidores.
O algoritmo não apenas seleciona: molda o comportamento. Cada utilizador recebe um fluxo feito à medida das suas emoções e preconceitos. E quanto mais interage, mais estreita se torna a bolha em que habita. Assim, o cidadão que acreditava estar informado vive afinal dentro de um espelho, onde só vê refletidas as suas próprias crenças. O debate público morre não pela censura direta, mas pela multiplicação infinita de monólogos. E nesta fragmentação, a democracia perde o seu oxigénio vital: o confronto de ideias.
O mais perigoso, porém, é que este processo se esconde atrás de uma capa de modernidade e eficiência. Nunca houve censura tão eficaz quanto a que se apresenta como liberdade absoluta. O utilizador julga estar a escolher, quando na verdade está a ser conduzido. Julga estar a falar com o mundo, quando apenas fala com o reflexo que o algoritmo lhe devolve. E é nessa ilusão que se abre espaço para a manipulação externa: quando a sociedade abdica da verdade comum, qualquer mentira bem contada pode tornar-se dominante.
O algoritmo censor não é apenas uma metáfora. É um dos maiores desafios civilizacionais do nosso tempo. E compreendê-lo é compreender porque as democracias se sentem hoje frágeis, divididas e desorientadas. Se não aprendermos a enfrentar esta nova forma de censura invisível, acabaremos por descobrir demasiado tarde que a liberdade pode morrer não pela imposição do silêncio, mas pelo excesso ensurdecedor do ruído.
Capítulo 3 – O Laboratório Russo
Enquanto o Ocidente acreditava ainda na inocência das suas praças digitais, a Rússia já compreendia o verdadeiro poder das redes sociais. Foi em São Petersburgo que nasceram as chamadas “fábricas de trolls”: edifícios discretos onde centenas de jovens trabalhavam em turnos, criando perfis falsos, espalhando boatos e lançando campanhas de desinformação em várias línguas. Não se tratava de improviso, mas de estratégia: uma guerra híbrida, onde as palavras e imagens substituíam tanques e mísseis.
O primeiro grande ensaio desta máquina deu-se no Reino Unido. Durante a campanha do Brexit, milhares de contas falsas inundaram as redes com mensagens pró-saída da União Europeia. Não importava a consistência dos argumentos, mas a sua capacidade de inflamar emoções: slogans curtos, memes virais, falsas notícias sobre imigração e soberania. O referendo foi decidido por uma margem estreita, e não se pode compreender esse resultado sem contabilizar a intervenção digital russa. Foi o triunfo da manipulação invisível sobre o debate democrático.
Pouco depois, a mesma máquina foi afinada para um palco ainda maior: os Estados Unidos. Nas eleições de 2016, a Rússia lançou uma das maiores operações de desinformação da história moderna. Milhões de americanos receberam, através do Facebook e do Twitter, notícias falsas cuidadosamente segmentadas para explorar as divisões raciais, religiosas e políticas do país. Trump tornou-se o beneficiário direto desta campanha, que corroeu a confiança na imprensa e nas instituições. O relatório da inteligência americana foi claro: a mão de Moscovo esteve presente. O resultado foi a eleição de um presidente visto como útil para a estratégia russa de enfraquecer a NATO e a coesão ocidental.
Mas a ofensiva não ficou por aqui. Em toda a Europa, partidos populistas e eurocéticos receberam, direta ou indiretamente, apoio da Rússia. Desde o financiamento a Marine Le Pen, em França, até ao estímulo a movimentos radicais na Alemanha e na Itália, Moscovo espalhou sementes de desconfiança e divisão. A lógica era simples: quanto mais fraturada estivesse a Europa, mais fraco seria o bloco ocidental diante das ambições russas.
O “laboratório russo” mostrou ao mundo uma nova forma de guerra: não a conquista de territórios, mas a conquista de mentes. Através da desinformação, Moscovo conseguiu semear discórdia, manipular eleições e corroer a confiança dos cidadãos nas suas próprias democracias. Enquanto os tanques estavam estacionados, as palavras faziam o trabalho sujo. Foi o início de uma era em que a geopolítica deixou de se jogar apenas em campos de batalha para se travar também nas timelines de milhões de utilizadores distraídos.
Este capítulo mostra-nos que a fragilidade não estava apenas nos algoritmos, mas também na ingenuidade das sociedades democráticas. Ao acreditar que as redes eram espaços de liberdade imune à manipulação, o Ocidente ofereceu à Rússia a arma perfeita. E quando finalmente despertou, já se encontrava cercado por narrativas falsas, polarizações artificiais e uma opinião pública envenenada. O laboratório russo provou que a guerra do século XXI já não precisa de bombas para abalar impérios: basta um exército de perfis falsos e um algoritmo disposto a dar-lhes palco.
Capítulo 4 – A Estratégia Chinesa
Se a Rússia apostou na desinformação como arma, a China desenvolveu uma estratégia diferente, mas não menos eficaz: a conquista cultural e tecnológica. Pequim percebeu que, no século XXI, dominar não é apenas ocupar territórios, mas moldar mentes, influenciar hábitos e normalizar a vigilância como parte do quotidiano.
O exemplo mais evidente é o TikTok. Apresentado como uma plataforma de entretenimento leve e criativo, rapidamente conquistou milhões de jovens em todo o mundo. Mas por trás da dança e do humor, esconde-se uma ferramenta poderosa: algoritmos capazes de moldar percepções, promover conteúdos que distraem e, de forma subtil, silenciar vozes ou temas considerados indesejados. A diversão funciona como anestesia política. Enquanto os utilizadores deslizam vídeos de poucos segundos, Pequim observa, recolhe dados e testa formas de influência cultural em escala global.
A estratégia chinesa não se limita ao entretenimento. Internamente, o regime construiu o maior sistema de vigilância digital do planeta: câmaras de reconhecimento facial em cada esquina, monitorização massiva da internet, e o famoso “sistema de crédito social”, que recompensa a obediência e pune comportamentos considerados desviantes. Este modelo de controlo, pensado para consumo interno, começa a ser exportado. Países africanos, asiáticos e até algumas democracias fragilizadas já importaram tecnologias de vigilância made in China, construindo uma teia global de autocracia digital.
O soft power tecnológico da China também se manifesta através das suas grandes empresas. Huawei, ByteDance, Alibaba e outras gigantes não são apenas corporações privadas: funcionam como extensões do Estado chinês, sujeitas à lógica do Partido Comunista. Quando exportam infraestruturas de telecomunicações, não vendem apenas tecnologia, mas também dependência política. Cada cabo, cada antena, cada aplicação, é uma linha que liga o futuro digital de outros países ao centro de comando em Pequim.
No Ocidente, a estratégia chinesa é ainda mais insidiosa. Enquanto a Rússia aposta no choque, no escândalo e na divisão, a China aposta na distração. Não precisa de criar ódio para enfraquecer democracias — basta criar indiferença. Um cidadão anestesiado por horas de vídeos triviais é tão inofensivo para o poder autocrático quanto um cidadão manipulado pelo ódio. A diferença é que, na versão chinesa, a manipulação vem disfarçada de diversão inofensiva.
O grande perigo é que esta estratégia, silenciosa e sorridente, se revela extremamente eficaz. Enquanto os governos discutem a segurança nacional em relatórios densos, milhões de jovens moldam a sua visão do mundo através de uma plataforma controlada por um regime autoritário. E assim, sem ruído nem escândalo, a China vai desenhando o futuro digital com a paciência milenar de quem sabe esperar. No tabuleiro global, Pequim joga Go, não xadrez: não busca movimentos rápidos e arriscados, mas a ocupação lenta e inevitável do espaço cultural e tecnológico do planeta.
Capítulo 5 – Democracia em Crise
As redes sociais, manipuladas de fora e exploradas por dentro, não só abriram espaço para campanhas autocráticas como também expuseram as fragilidades internas das democracias. O cidadão que acreditava estar mais informado do que nunca acabou preso numa bolha de informação, onde só vê refletidas as suas próprias crenças. O espaço público deixou de ser um lugar de encontro para se tornar numa soma de monólogos paralelos.
O algoritmo não mostra diversidade, mas repetição. Cada clique estreita a visão, cada partilha reforça a bolha. E assim o cidadão deixa de encontrar o diferente, o contraditório, o desafiante. Vive num espelho digital, convencido de que o mundo inteiro pensa como ele. Quando finalmente encontra a diferença, não a reconhece como legítima, mas como inimiga. É o fim do diálogo democrático e o início da guerra tribal.
A polarização política, que sempre existiu, transformou-se em polarização existencial. Já não se trata apenas de discordar de políticas, mas de dividir o mundo em bons e maus, em patriotas e traidores, em “nós” e “eles”. As redes sociais amplificam esta lógica binária, reduzindo a complexidade da realidade a slogans fáceis e a caricaturas de adversários. O debate democrático cede lugar ao insulto. A razão é substituída pelo grito. E quanto mais grita, mais o algoritmo recompensa.
Este tribalismo digital corrói lentamente as bases das sociedades abertas. A confiança na imprensa é minada por campanhas de fake news que acusam jornalistas de serem manipuladores. A confiança na ciência vacila diante de teorias da conspiração espalhadas a alta velocidade. A confiança na política dissolve-se em acusações permanentes de corrupção, muitas vezes fabricadas ou exageradas. O resultado é um cidadão desconfiado de tudo, mas paradoxalmente mais vulnerável às narrativas simplistas e autoritárias.
As democracias vivem, assim, um paradoxo doloroso: ao mesmo tempo que oferecem mais liberdade de expressão do que nunca, tornam-se incapazes de criar consensos mínimos para governar. Cada eleição transforma-se num campo de batalha cultural. Cada decisão é vista como imposição ilegítima. O populismo cresce neste terreno fértil, alimentado por redes sociais que amplificam o ressentimento e recompensam a demagogia. A democracia, sem confiança nem diálogo, torna-se refém do espetáculo digital.
Esta crise não nasceu apenas da manipulação externa de Rússia ou China, mas também da incapacidade do Ocidente em proteger o seu próprio espaço público. Ao entregar a mediação da conversa social a algoritmos privados, as democracias abriram mão da sua própria alma. E hoje descobrem, tarde demais, que o veneno que corrói por dentro não é só importado: é também cultivado dentro de casa.
Capítulo 6 – O Mercado das Trevas
Se a Rússia manipula e a China vigia, as próprias plataformas digitais são as cúmplices silenciosas deste processo. Não porque partilhem ideologia com os autocratas, mas porque encontraram na polarização a fórmula mais lucrativa do século XXI. O verdadeiro motor das redes sociais não é a liberdade, mas o lucro — e o combustível é a atenção humana, convertida em dados e vendida ao melhor comprador.
O modelo de negócio é simples e devastador. Quanto mais tempo o utilizador passa diante do ecrã, mais anúncios lhe são servidos. Quanto mais interage, mais dados são recolhidos. E o que mais prende a atenção não é a serenidade do diálogo, mas a violência da emoção. O ódio gera cliques. A polémica prende o olhar. A indignação é viral. Assim, a própria arquitetura das plataformas foi desenhada para recompensar a divisão. A polarização deixou de ser um acidente para se tornar um produto deliberado.
Nesta lógica perversa, a democracia tornou-se apenas mais uma mercadoria. Os dados dos cidadãos, recolhidos a cada gesto digital, transformaram-se em armas políticas. Campanhas eleitorais segmentadas, mensagens personalizadas, manipulações invisíveis: tudo é possível quando se conhece não apenas o perfil público, mas também os medos, ansiedades e desejos íntimos de cada utilizador. A privacidade morreu, e com ela morreu também a fronteira entre publicidade comercial e propaganda política.
As plataformas sabem disto. E, no entanto, preferem o silêncio. Sempre que confrontadas com provas de manipulação, respondem com relatórios vagos, promessas de maior vigilância e medidas cosméticas. Porque mexer a sério no algoritmo significaria reduzir o tempo de ecrã, e isso implicaria menos lucro. Assim, tornam-se cúmplices pela omissão — guardiãs de um mercado obscuro onde a verdade vale menos do que a publicidade segmentada.
No século XXI, a informação tornou-se o novo petróleo. Quem controla dados controla economias, sociedades e até democracias. A diferença é que, enquanto o petróleo pode ser armazenado em barris, os dados são extraídos diretamente da vida das pessoas, sem que muitas vezes se apercebam. É uma exploração constante, silenciosa, aparentemente inofensiva, mas de consequências devastadoras. O mercado das trevas não se limita a vender produtos: vende a própria alma do espaço público democrático.
Compreender esta lógica é crucial para perceber porque o Ocidente parece enfraquecer-se a cada ano. Não é apenas porque inimigos externos o atacam, mas porque os seus próprios sistemas digitais foram construídos para favorecer a fragmentação. O lucro imediato venceu o interesse coletivo. E, enquanto essa equação não for invertida, a democracia continuará a ser negociada em bolsas invisíveis, onde o preço da verdade é sempre demasiado baixo para competir com o valor da mentira viral.
Capítulo 7 – Resistência e Luz
Apesar da sombra que se abateu sobre o espaço digital, nem tudo está perdido. A história mostra que, sempre que a escuridão pareceu definitiva, vozes isoladas, palavras corajosas e atos de resistência abriram fendas por onde entrou a luz. O mesmo pode acontecer com as redes sociais: elas não precisam de ser apenas agentes das trevas, podem também tornar-se arenas de reconstrução democrática.
Um dos primeiros pilares dessa resistência é o jornalismo de investigação. Mesmo fragilizados financeiramente e atacados por campanhas de descrédito, muitos jornalistas continuam a desempenhar o papel essencial de expor mentiras, verificar factos e denunciar manipulações. Cada artigo que desmonta uma fake news é uma pequena vitória contra o algoritmo, uma tocha acesa num mar de ruído.
Outro foco de esperança reside nas comunidades críticas. Espaços digitais mais pequenos, independentes de grandes plataformas, têm surgido como alternativas para quem procura diálogo verdadeiro. São menos visíveis, menos virais, mas mais autênticos. Nestes refúgios, o objetivo não é o clique fácil, mas a troca de ideias, a construção de sentido, a partilha solidária.
Há também experiências de democracia digital que apontam novos caminhos. Plataformas de participação cidadã, orçamentos colaborativos online, assembleias digitais: são tentativas de usar a tecnologia não para dividir, mas para aproximar. Ainda incipientes, mas reveladoras de que a mesma ferramenta que serve para manipular pode também ser usada para fortalecer a cidadania.
Mas a resistência não depende apenas de grandes projetos coletivos. Cada cidadão, com a sua consciência crítica, é também uma tocha. A escolha de não partilhar conteúdos duvidosos, de ler para além do título, de verificar a fonte, é já um ato político. Num mundo onde o algoritmo recompensa a distração, a atenção consciente é uma forma de revolta.
O futuro não está fechado. Se o presente parece dominado pela manipulação e pela indiferença, é porque o Ocidente esqueceu a sua capacidade de reinvenção. A mesma criatividade que construiu as redes pode ser usada para lhes dar novo rumo. Cabe-nos decidir se aceitamos a sombra como destino ou se ousamos reacender a chama. Resistir é possível. Criar é necessário. E talvez seja nesse gesto — simples e radical — que a democracia encontre a sua nova luz.
Conclusão – A Última Tocha
Chegados ao fim desta viagem, resta a pergunta inevitável: que futuro queremos para o espaço digital e, por extensão, para a própria democracia? As redes sociais, que começaram como promessa de liberdade, revelaram-se instrumentos de manipulação e de divisão. A Rússia usou-as para semear o caos, a China para consolidar o seu modelo de vigilância, e as próprias plataformas para maximizar lucros. Mas nada disto é irreversível.
A história da humanidade é feita de ciclos de sombra e de luz. Sempre que a escuridão pareceu triunfar, houve quem ousasse acender tochas, mesmo isoladas, e abrir caminho. Hoje, essa responsabilidade cabe a nós. Não podemos esperar que os algoritmos se reformem sozinhos ou que os autocratas abandonem as suas ambições. O que podemos — e devemos — fazer é recuperar a consciência crítica, recusar a manipulação fácil e exigir novas formas de cidadania digital.
A última tocha não é uma metáfora distante: é a escolha diária de cada cidadão. É o gesto simples de verificar uma notícia antes de partilhar. É o ato corajoso de escrever contra a corrente. É a criação de espaços de diálogo onde o algoritmo não manda. É a recusa em aceitar que a democracia seja reduzida a espetáculo, enquanto o futuro é vendido ao melhor licitador.
O Ocidente não está condenado. Está ferido, cansado, desorientado — mas vivo. E só morrerá se desistirmos de o sonhar. Se tivermos coragem de reinventar as nossas democracias digitais, podemos transformar as redes, de agentes das trevas, em agentes da luz. Não será fácil, não será rápido, mas será necessário.
Que este livro sirva como apelo, denúncia e esperança. As trevas são reais, mas não são invencíveis. Enquanto houver palavras a serem escritas, ideias a serem partilhadas e consciências dispostas a resistir, haverá luz. E essa luz, afiada como laser, é a nossa última tocha.
Francisco Gonçalves & Augusts Veritas (2025). All rigths reserved ©
A bibliografia de referência que sustentou a redação do livro —
Bases teóricas (algoritmos, atenção, bolhas)
Pariser, Eli — The Filter Bubble. Penguin, 2011.
Sunstein, Cass R. — #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton, 2017.
Zuboff, Shoshana — The Age of Surveillance Capitalism. Profile/PS, 2019.
Benkler, Y.; Faris, R.; Roberts, H. — Network Propaganda. Oxford, 2018.
Wu, Tim — The Attention Merchants. Vintage, 2016.
Hwang, Tim — Subprime Attention Crisis. FSG, 2020.
Tufekci, Zeynep — Twitter and Tear Gas. Yale, 2017.
Vosoughi, S.; Roy, D.; Aral, S. — “The spread of true and false news online.” Science, 2018.
Modelos de propaganda e desinformação
Paul, C.; Matthews, M. — “The Russian ‘Firehose of Falsehood’ Propaganda Model.” RAND, 2016.
Wardle, C.; Derakhshan, H. — Information Disorder. Council of Europe, 2017.
Bradshaw, S.; Howard, P. N. — Troops, Trolls and Troublemakers. Oxford Internet Institute, 2017–2020 (Computational Propaganda).
Starbird, K. — “Disinformation’s spread on social platforms.” vários artigos 2017–2021.
Operações russas (Brexit, EUA, UE)
Office of the Director of National Intelligence (ODNI) — Assessing Russian Activities and Intentions in Recent U.S. Elections, 2017.
U.S. Senate Select Committee on Intelligence — Russian Active Measures Campaigns and Interference in the 2016 U.S. Election, Vols. I–V, 2019–2020.
Mueller, R. S. — Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election, 2019 (particular foco na Internet Research Agency).
UK Parliament, DCMS — Disinformation and ‘Fake News’: Final Report, 2019.
UK Intelligence and Security Committee — Russia (ISC Report), 2020.
DFRLab (Atlantic Council) & Graphika — diversos relatórios sobre IRA/troll farms, 2017–2022.
Wylie, C. — Mindfck* (Cambridge Analytica), 2019.
Cadwalladr, C. — investigações no The Guardian/Observer (Cambridge Analytica), 2018.
Estratégia chinesa (vigilância, soft power, plataformas)
Freedom House — Freedom on the Net (capítulos sobre China), edições anuais.
Citizen Lab (Toronto) — relatórios sobre censura/monitorização em WeChat, TikTok, etc., 2016–2023.
Australian Strategic Policy Institute (ASPI) — relatórios sobre influência e “sharp power”, 2017–2022.
Rogier Creemers (ed.) — traduções/análises de políticas digitais chinesas e “crédito social”, 2014–2022.
NED — Sharp Power: Rising Authoritarian Influence, 2017.
Economia das plataformas & efeitos sociais
Srnicek, Nick — Platform Capitalism. Polity, 2017.
Frenkel, S.; Kang, C. — An Ugly Truth (Facebook), 2021.
Fisher, Max — The Chaos Machine. Little, Brown, 2022.
Newman, N. et al. — Reuters Institute Digital News Report, edições anuais (polarização e consumo noticioso).
Políticas públicas & regulação
União Europeia — Regulamento dos Serviços Digitais (DSA), 2022; GDPR, 2016/2018.
Alemanha — NetzDG, 2017.
Reino Unido — Online Safety Act, 2023.
Comissão Europeia — Code of Practice on Disinformation (2018; reforçado 2022).
Prebunking, literacia e resiliência
van der Linden, S.; Roozenbeek, J. — estudos sobre “inoculation/prebunking” e o jogo Bad News, 2019–2022.
Lewandowsky, S.; Ecker, U. — The Debunking Handbook, 2017/2020.
Jigsaw/Google — experiências de prebunking em vídeo, 2022–2023.
Jornalismo e investigações-chave
The Guardian, The Washington Post, The New York Times, Le Monde, Público — dossiês sobre Cambridge Analytica, IRA, campanhas coordenadas (2016–2022).
RSF — World Press Freedom Index, edições anuais (contexto de ecossistema informacional).