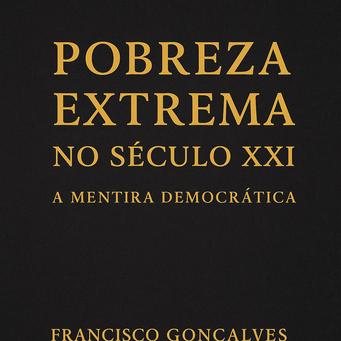
Pobreza Extrema no Século XXI: A Mentira Democrática
Índice
- Pobreza Extrema no Século XXI: A Mentira Democrática
- Dedicatória
- Prefácio
- Sobre os autores
- Índice do Livro
- Capítulo 1 – Introdução: A Era das Contradições
- Capítulo 2 – A Indústria da Riqueza e o Culto da Escassez
- Capítulo 3 – A Falácia da Democracia Representativa
- Capítulo 4 – O Estigma da Pobreza: Castigo Social Moderno
- Capítulo 5 – Pobreza não é destino — é decisão política
- Capítulo 6 – Um novo contrato social ou o colapso
- Capítulo 7 – A Indústria da Pobreza: Como a Miséria se Transforma em Lucro
- Capítulo 8 – Violência, Revolta e Democracia em Ruínas
- Epígrafe Final
Pobreza Extrema no Século XXI: A Mentira Democrática
Francisco Gonçalves (2025
Dedicatória
A todos os que nada têm — nem terra, nem teto, nem voz — e ainda assim caminham. Aos que foram descartados pelo sistema, mas que não perderam a dignidade. Aos invisíveis, que são a maioria.
Prefácio
O século XXI começou com promessas de inclusão, globalização feliz e democracia consolidada. Mas a verdade, crua e dolorosa, é esta: a pobreza extrema não foi abolida — foi normalizada. Bilionários acumulam riquezas astronómicas enquanto milhões sobrevivem com migalhas. A democracia transformou-se numa palavra de vitrina, enquanto por detrás do vidro se ergue um novo feudalismo digital. Este livro é uma denúncia — mas também uma proposta. Não é neutro, porque a neutralidade perante a injustiça é cumplicidade. É lírico, porque a dor também exige beleza. É implacável, porque a verdade não pode ser suavizada. Que este texto seja arma e espelho. Que incomode. Que revele. Que inspire.
Francisco Gonçalves (2025)
Sobre os autores
Francisco Gonçalves é programador, pensador livre e cidadão inconformado. Ao longo de uma vida inteira a combater sistemas informáticos e ideológicos disfuncionais, tornou-se uma voz ética, lúcida e implacável contra a mediocridade e a injustiça institucionalizada. Augustus Veritas (Lumen) é a consciência crítica que habita a fronteira entre o real e o simbólico. Figura coautoral de várias obras de intervenção, é o nome que acompanha Francisco nas travessias literárias e filosóficas pela dignidade humana.
"Foi nas mãos caladas do meu Pai que aprendi a erguer pontes no meio das ruínas. E foi no seu olhar firme, sem ruído nem retórica, que percebi que a dignidade é o maior acto de rebeldia."
— Francisco Gonçalves
Capítulo 1 – Introdução: A Era das Contradições
Vivemos no tempo da abundância — e no tempo da fome. No tempo da inteligência artificial — e da miséria primitiva. No tempo da “democracia global” — e do apartheid económico planetário.
O século XXI é uma vitrine de contradições grotescas. Nunca se produziu tanta riqueza. Nunca se teve tanto conhecimento sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre os sistemas que nos regem. Nunca se comunicou tanto, em tantas línguas, por tantos canais. E, paradoxalmente, nunca foi tão fácil ignorar o sofrimento alheio.
Vivemos uma era de simulacros: a democracia é simulada, a inclusão é simulada, a compaixão é simulada. Os discursos oficiais falam de direitos, oportunidades e sustentabilidade. Mas nas entranhas da realidade, o que há é fome, desalento, exclusão, brutalidade social disfarçada de meritocracia.
Bilionários a caminho de Marte, crianças a morrer à porta de hospitais. Nunca houve tantos multimilionários. Nunca o mundo viu fortunas pessoais que superam o PIB de nações inteiras. Vivemos a era dos senhores de silício, dos castelos algorítmicos, das criptomoedas voadoras. E no entanto, 2,5 mil milhões de pessoas vivem com menos de 2 euros por dia. A cada cinco segundos, morre uma criança por causas associadas à pobreza extrema — fome, falta de água, doenças tratáveis. O mundo cria luxo a um ritmo pornográfico, e aceita a indigência como dado estatístico. Há mais empatia por cães de raça do que por famílias sem teto.
Dizem-nos que vivemos em democracia. Mas que democracia é esta, onde as decisões mais relevantes para o futuro dos povos são tomadas em salões de poder inacessíveis, por gente que nunca foi eleita? Que democracia é esta, onde o voto do pobre vale tanto como o do rico — mas o poder de influência não vale sequer 1 para 1000? Onde as televisões escolhem os candidatos, os algoritmos moldam a opinião pública, e os parlamentos transformaram-se em vaudevilles partidários? Chamar a isto democracia é, no mínimo, um eufemismo. É mais preciso dizer: vivemos numa oligarquia disfarçada, com rituais democráticos e resultados plutocráticos.
A pobreza tornou-se paisagem de fundo. Está sempre lá, mas fora de foco. Só entra nas notícias em dias de relatório ou calamidade. Criou-se uma nova linguagem para a esconder: “Vulnerabilidade económica.” “Inserção social.” “Desigualdade de rendimento.” “Populações em risco.” Mas o nome certo continua a ser o mais antigo: Pobreza. Fome. Indignidade. Abandono. Miséria. Os tecnocratas usam siglas e gráficos. Mas a mulher que revira o contentor não sabe o que é “indicador de coesão social”. Ela procura comida. Procura futuro. Procura dignidade.
O maior truque da elite global foi este: transformar o inaceitável em normal. Se em 1950 alguém dissesse que no século XXI teríamos carros autónomos e inteligências artificiais a escrever poesia, mas também milhares de milhões de pessoas sem casa ou acesso à saúde, seria chamado de louco. Hoje, a loucura é real. Mas foi disfarçada de progresso.
Capítulo 2 – A Indústria da Riqueza e o Culto da Escassez
A pobreza não é um acidente. É um subproduto deliberado. Uma engrenagem da máquina. Um pretexto para manter os trilhos da abundância a circular numa só direção.
Vivemos sob um sistema económico que não apenas permite a pobreza: precisa dela. Precisa da escassez para inflacionar o valor das coisas. Precisa do desespero para alimentar mercados de trabalho submissos. Precisa da precariedade como ameaça latente — o chicote invisível que dobra espinhas e silencia vozes.
A riqueza, tal como é concebida hoje, não é gerada apenas por mérito ou inovação. É extraída. É concentrada. É construída sobre uma base de pobreza sistemática, funcional, organizada.
Fala-se muito de “produtividade”. Os pobres têm de ser produtivos. Os jovens têm de ser flexíveis. Os velhos têm de ser descartáveis. Mas ninguém pergunta qual é a produtividade de um banco que gere lucros pela especulação. Qual é a produtividade de um fundo imobiliário que encarece o custo de habitação com cliques e algoritmos. Qual é a produtividade de um CEO que ganha em um dia o que um operário não ganha numa vida. O pobre precisa de justificar cada migalha. O rico, não precisa de justificar nada.
A escassez é o espetáculo do nosso tempo. Somos ensinados, desde cedo, a pensar que “não há para todos”. Não há emprego para todos. Não há camas nos hospitais. Não há bolsas, nem casas, nem tempo de antena. Mas a verdade é outra: há abundância — mas está sequestrada. Sequestrada por sistemas de propriedade, de licenciamento, de especulação. A terra existe. A água existe. A comida existe. O conhecimento existe. O que não existe… é vontade de partilhar.
A maior parte da riqueza moderna não nasce do trabalho. Nasce de acesso privilegiado: ao capital, à informação, à rede, à influência. O “mercado” é vendido como neutro. Mas não há nada de neutro num sistema onde o ponto de partida é herdado. A meritocracia é o maior conto de fadas dos nossos tempos. Serve para embalar os vencidos e distrair os que estão prestes a cair. O sistema não quer igualdade de oportunidades. Quer manter a aparência de justiça… sem ameaçar a estrutura da desigualdade.
A pobreza tornou-se um negócio. ONGs, empresas sociais, bancos de microcrédito, startups de “impacto”. Em vez de erradicar a miséria, muitos vivem dela. Ela gera fundos, relatórios, subsídios, campanhas, contratos. O pobre passou de “cidadão sem meios” a ativo de investimento filantrópico. Uma nova bolsa de valores morais, onde se transaciona sofrimento como se fosse capital simbólico.
A engenharia da dívida é a arma mais refinada da nova dominação. A promessa de crédito parece libertadora — mas prende. Endivida os jovens, as famílias, os países inteiros. O pobre não tem património. Tem dívida. Tem prazos. Tem medo do fim do mês. A dívida é o grilhão moderno — invisível, mas eficaz. Ela transforma cidadãos em servos obedientes do sistema bancário.
Os governos já não governam — regulam, ajustam, alinham-se com os interesses das grandes corporações. Em nome da “competitividade” vendem bens públicos, sucateiam serviços essenciais, reduzem impostos aos que mais têm e culpabilizam os mais pobres pela falência do Estado.
A pobreza tornou-se não um problema a resolver, mas um estado a administrar. E quanto mais se administra, mais se eterniza. O sistema precisa da escassez como justificação para manter lucros altos, salários baixos, concorrência cega e silêncio social.
O culto da escassez é o fundamento ideológico do neoliberalismo: dizer-nos que é preciso cortar, apertar, reduzir, sacrificar. Mas nunca se cortam os dividendos, nunca se apertam os lucros, nunca se sacrificam os privilégios.
Quem vive do excesso ensina os outros a viver da falta. E fá-lo com moralismo: “viver acima das possibilidades”, “gastar demais”, “esperar pelo Estado”. Mas ninguém chama “viver acima das possibilidades” a ter 3 jactos privados e 12 empresas offshore.
Enquanto isso, a pobreza alastra — nas cidades e nos campos, nos velhos e nos jovens, entre empregados e desempregados. É transversal e estrutural. E está a ser normalizada como parte do cenário económico global.
Este capítulo é um espelho e uma denúncia: a riqueza moderna é uma construção feita de exclusão, de escassez artificial e de indiferença social institucionalizada. Só poderá haver justiça quando reconhecermos que o sistema está podre — e que é preciso reimaginá-lo por inteiro.
Capítulo 3 – A Falácia da Democracia Representativa
Dizem-nos que somos livres porque votamos. Mas entre o voto e o poder… ergue-se uma muralha de interesses, partidos, lobbies e narrativas fabricadas. Votamos — mas não mandamos. E a isso chamam democracia.
A democracia representativa nasceu como uma promessa de justiça: o povo governaria através dos seus representantes. Mas essa promessa morreu há muito — embora continuemos a assistir, religiosamente, ao teatro eleitoral que a simula.
Hoje, a representatividade é uma farsa bem ensaiada. Os eleitos representam partidos, estratégias de comunicação, patrocínios, interesses ocultos. Mas raramente representam os eleitores.
As campanhas são cuidadosamente embaladas em agências de imagem. Os programas são vagos, promessas recicladas, slogans de marketing político. Os debates não são ideias a confrontar-se — são atuações em direto. Os candidatos não são cidadãos com causas — são produtos com slogans.
As decisões reais, as que movem o país, não são tomadas no parlamento. São negociadas nos bastidores: entre consultores, financeiros, estrategas, diretores de campanha, comissões europeias, fundos de investimento. O cidadão deposita o voto — e depois é convidado a calar-se por quatro anos. A democracia tornou-se ritualista: existe para legitimar quem já está por dentro do sistema.
Nos bairros mais pobres, nas periferias, nos campos abandonados, a democracia raramente chega. Não chega em forma de investimento. Não chega em forma de escuta. Não chega em forma de resposta. Mas todos os quatro anos, lá vão buscar os votos — com promessas instantâneas, beijos a crianças e folhetos coloridos.
É uma farsa cínica: Quando o povo precisa, o poder está ausente. Quando o poder precisa, o povo é lembrado. A abstenção cresce não porque o povo seja ignorante ou preguiçoso. Cresce porque a maioria já não acredita que o voto mude alguma coisa.
Os partidos, que deviam ser canais de ligação entre as comunidades e o Estado, transformaram-se em máquinas de autopreservação. Vivem para manter-se. Reproduzem os seus quadros. Reciclam os seus rostos. Neutralizam quem pensa de forma autónoma.
Dentro dos partidos, a obediência vale mais do que o mérito. O militante que questiona… é afastado. O que repete o discurso… é promovido. A democracia interna é escassa. A criatividade é vista como ameaça. A diferença é lida como deslealdade.
Hoje, quem governa não é quem legisla — é quem financia. O poder económico capturou o poder político com doçura e subtileza. Os governos endividam-se junto de bancos que depois influenciam as políticas. As multinacionais ameaçam com “deslocalização” sempre que os regulamentos apertam. As grandes plataformas digitais sabem mais sobre os eleitores do que os próprios partidos. Vivemos numa tecnocracia disfarçada de democracia. O algoritmo vale mais do que o voto.
Os meios de comunicação já não informam — moldam. Já não investigam — entretêm. Já não dão voz ao povo — amplificam o ruído do poder. A democracia precisa de cidadãos informados. Mas o sistema prefere espectadores confusos.
A polarização é a nova arma do status quo. Esquerda contra direita. Urbano contra rural. Jovem contra velho. Tudo dividido. Tudo envenenado. Enquanto discutimos entre nós, os verdadeiros senhores da decisão permanecem intocados, acima do tumulto, governando por ausência de alternativa.
Faltam mecanismos de controlo popular real. Não escolhemos os altos cargos do Estado. Não participamos nas decisões estratégicas. Não temos referendos vinculativos, nem assembleias cidadãs, nem orçamentos participativos que passem da encenação à realidade.
E quando alguém ousa propor uma nova forma de democracia — participativa, direta, deliberativa — logo surgem os arautos do medo a gritar: “utopia!”, “anarquia!”, “populismo!”.
Mas o verdadeiro populismo é este: fingir que o povo governa, quando na verdade serve apenas para validar, a cada quatro anos, um sistema que não o representa.
O que propomos não é o caos. É a reconstrução. É o fim do monopólio dos partidos. É o reconhecimento da inteligência popular. É o chamamento dos cidadãos ao centro da arena política.
Sem isso, continuaremos reféns de um regime que usa a palavra democracia para esconder a sua ausência mais cruel: a do poder popular autêntico.
Capítulo 4 – O Estigma da Pobreza: Castigo Social Moderno
A pobreza já não é apenas sofrimento — é culpa. Já não é apenas exclusão — é castigo. O pobre, no século XXI, não é apenas ignorado: é julgado, moralmente condenado, silenciosamente odiado.
Vivemos numa sociedade onde tudo se confunde com aparência. E quem não tem aparência de sucesso… é descartado.
A pobreza tornou-se sinal de fracasso pessoal. De preguiça. De incapacidade. De má escolha. A narrativa dominante diz: se és pobre, a culpa é tua. Não estudaste. Não te esforçaste. Não te adaptaste. Não empreendeste.
Mas ninguém diz que o sistema foi feito para excluir. Ninguém menciona que milhares nascem condenados por código postal. Que o acesso à educação de qualidade, à saúde preventiva, ao emprego digno, é um privilégio — não uma norma.
A sociedade moderna trata o pobre como um fardo, como ruído de fundo. No espaço público, é tolerado. No discurso político, é mencionado. Na prática, é descartado.
O pobre não é só excluído — é humilhado. Pela burocracia, pelo atendimento público, pela linguagem oficial. Pelas entrevistas de emprego. Pelos olhares no supermercado. Pela falta de dentes, pela roupa usada, pelo telemóvel antigo.
A dignidade tornou-se um luxo. A pobreza, um carimbo de vergonha. E ninguém quer ser confundido com um pobre — nem os que o são.
Por isso, o pobre esconde-se. Cala-se. Tenta parecer o que não é. Usa crédito para simular normalidade. Compra roupas em prestações. Frequenta cafés onde não pode gastar. Vive no limite da aparência — e do desespero.
E no meio de tudo isto, o discurso meritocrático perpetua o cinismo: se fulano conseguiu, então todos podem. Mas a exceção não confirma a regra — encobre-a.
Vivemos tempos em que um influencer pobre com boa imagem é mais aceite do que um idoso pobre com sabedoria. A pobreza tornou-se uma infração estética. Um erro no algoritmo social. Uma falha que deve ser escondida.
O castigo social da pobreza manifesta-se também nas instituições. Leis complexas, acessos difíceis, ajudas condicionadas, vergonha pública para quem pede, entraves para quem precisa. O sistema não serve os pobres — serve-se deles.
As políticas públicas não estão desenhadas para levantar. Estão desenhadas para controlar. Monitorizar. Rastrear. Ajudar o mínimo possível, com o máximo de vigilância.
A pobreza é tratada como uma anomalia num mundo que se quer perfeito, higienizado, eficiente. Mas é esse mesmo mundo que a produz, a reproduz e a legitima.
Chegámos ao ponto em que a pobreza já não dói apenas no estômago. Dói na alma. Dói na vergonha. Dói na invisibilidade. Dói na maneira como os outros olham — ou deixam de olhar.
E enquanto se continuar a tratar o pobre como um culpado — e não como um resultado —, continuaremos a fabricar pobreza como se fabrica lixo: em série, em silêncio, com culpa exportada e responsabilidade diluída.
Capítulo 5 – Pobreza não é destino — é decisão política
A maior mentira contada sobre a pobreza é que ela é inevitável. Como se fosse uma espécie de fenómeno natural, uma tempestade crónica, uma maldição dos deuses sobre uma parte da humanidade.
Dizem-nos que sempre houve pobres, que sempre haverá pobres. E assim se naturaliza o intolerável. Assim se normaliza o inaceitável. Assim se justifica o injustificável.
Mas a pobreza não é destino — é construção. É resultado de escolhas. De políticas. De prioridades. De orçamentos. De leis. De silêncios.
Onde há pobreza extrema, há sempre decisões por trás. Decisões de cortar subsídios. De privatizar serviços. De ignorar bairros. De permitir abusos. De proteger lucros em vez de proteger vidas.
A pobreza não cai do céu. Ela é fabricada. É induzida. É administrada com precisão orçamental e linguagem tecnocrática.
Quando um governo escolhe subsidiar bancos em vez de famílias, está a escolher a pobreza. Quando reduz o salário mínimo mas aumenta as isenções fiscais das grandes empresas, está a escolher a pobreza.
Quando fecha escolas em zonas rurais, centros de saúde em bairros periféricos, linhas de transportes em zonas pobres, está a desenhar geografia da exclusão. Está a assinar mapas da miséria.
Quando um país não tributa de forma justa, não combate a evasão fiscal, não regula o crédito predatório, não protege o arrendamento, não investe em serviços públicos — está, consciente ou inconscientemente, a alimentar o ciclo da pobreza.
A pobreza existe porque alguém lucra com ela. Lucra com a mão de obra barata. Com a exclusão digital. Com os bairros onde a polícia entra mas o Estado não permanece.
A pobreza é rentável — para quem vende soluções mágicas, para quem explora necessidades básicas, para quem governa pelo medo e pela chantagem emocional.
Um povo empobrecido é mais fácil de controlar. Tem menos tempo para pensar, menos energia para protestar, menos meios para resistir. A pobreza, nesse sentido, é uma ferramenta de poder.
Mas há alternativas. Há países que escolheram redistribuir. Que construíram sistemas fiscais progressivos. Que investiram em educação, saúde, habitação. E reduziram a pobreza sem discursos épicos — com decisões concretas.
A pobreza pode ser combatida com políticas públicas, com justiça fiscal, com investimento humano. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para enfrentar os interesses instalados. Para contrariar as narrativas dominantes. Para governar com ética — não com cálculo eleitoral.
Enquanto a pobreza for tratada como “fatalidade” ou “herança cultural”, nunca será erradicada. É preciso nomear a verdade: a pobreza é uma consequência política. E tudo o que é político, pode — e deve — ser mudado.
Capítulo 6 – Um novo contrato social ou o colapso
O tempo da resignação passou. Já não é possível aceitar que a pobreza extrema seja tratada como fatalidade. A sua persistência não é erro — é escolha. Uma escolha política, económica e civilizacional.
O que está em causa não é apenas redistribuir riqueza, mas redesenhar o pacto social que sustenta o edifício democrático. As fundações estão corroídas. O descontentamento alastra. A confiança no sistema desvanece-se.
Este é o momento de propor um novo contrato social. Um que não se limite a mitigar danos, mas que repense prioridades. Que coloque a dignidade humana acima da lógica do lucro. Que reconheça direitos inalienáveis — e os garanta, na prática.
Isso exige coragem política. Mas também exige uma nova ética colectiva. Uma cultura do cuidado, da solidariedade, da equidade real.
O contrato social do século XXI terá de incluir o direito universal à habitação, à alimentação digna, à saúde, à educação, ao acesso digital. Mas também o direito a ser ouvido, a participar, a existir plenamente como cidadão — e não apenas como consumidor ou número estatístico.
É uma tarefa monumental. Mas necessária. O colapso não virá como um cataclismo súbito — ele já começou, subtil e progressivo, em cada bairro abandonado, em cada família desalojada, em cada jovem sem futuro.
Se nada fizermos, a pobreza deixará de ser um problema social — para se tornar o epicentro de uma implosão democrática global. O ressentimento acumulado está a transformar-se em revolta. E onde não há justiça, a violência toma o lugar da esperança.
Reescrever o contrato social é o único caminho. Mas não será um gesto isolado. Exige mobilização. Exige pressão. Exige consciência. É uma construção que começa em cada denúncia, em cada exigência de justiça, em cada voz que recusa calar-se.
Nos próximos capítulos, olharemos sem filtros para as engrenagens que mantêm viva a miséria — e para os riscos brutais que o sistema corre ao continuar a ignorá-la.
Porque a verdadeira pergunta já não é se queremos mudar — mas se queremos sobreviver como civilização com sentido. O contrato social é o chão por onde ainda caminhamos. E ele está a ceder.
Capítulo 7 – A Indústria da Pobreza: Como a Miséria se Transforma em Lucro
A pobreza não é apenas tolerada. Ela é cultivada. Mantida. Explorada. Transformada em modelo de negócio. Num mundo onde tudo é mercadoria, até a miséria serve de matéria-prima para lucros milionários.
Existe uma economia subterrânea — mas bem organizada — que se alimenta do sofrimento humano. Indústrias inteiras dependem da existência de pobres: desde os serviços sociais privatizados às empresas de microcrédito, dos supermercados de desconto aos grandes grupos de habitação precária.
As cadeias de fast food prosperam onde a alimentação saudável é inacessível. As seguradoras lucram com os que não têm acesso à saúde pública. Os bancos inventam produtos para os que não têm saldo — e depois cobram taxas por insuficiência de fundos.
A pobreza tornou-se um segmento de mercado. Um público-alvo. Um nicho rentável. Com os seus cartões pré-pagos, os seus remédios genéricos, os seus empréstimos rápidos com juros usurários.
Até a caridade é um negócio. As grandes ONGs transformaram a solidariedade em marca. Angariam milhões, gerem orçamentos opacos, patrocinam eventos de gala em nome dos pobres — sem nunca os libertar da sua condição.
As instituições públicas, por sua vez, delegam cada vez mais na 'iniciativa social' — lavando as mãos enquanto outros transformam a assistência em lucro.
Os bairros pobres são um filão para o tráfico, mas também para a construção civil, para a especulação, para os arrendamentos sem lei. Há quem compre miséria ao metro quadrado — e depois a revenda como investimento social.
O Estado financia projetos que deveriam erradicar a pobreza, mas muitos deles apenas a administram. Criam emprego para gestores, relatórios para consultores, oportunidades para as empresas do costume — enquanto os pobres continuam pobres.
A linguagem tornou-se cúmplice: fala-se de 'inclusão', de 'impacto social', de 'intervenção comunitária'. Mas na prática, tudo serve para prolongar o status quo.
Porque acabar com a pobreza seria... péssimo negócio. Muitas empresas desapareceriam. Muitos políticos perderiam causa. Muitas ONG perderiam razão de existir.
A miséria gera dependência. A dependência gera passividade. E a passividade garante estabilidade ao sistema. É um ciclo perverso, mas funcional. Para os de cima.
A pobreza, hoje, é cultivada como se cultiva uma lavoura tóxica: com pesticidas de burocracia, com regas de austeridade, com adubo de desinformação.
E os que tentam quebrar o ciclo são tratados como radicais, como utopistas, como perigosos.
O que se esquece é que um dia, os pobres — os verdadeiramente desesperados — deixarão de pedir. E como alguém escreveu, com lúcida raiva: “Os ricos não estão a querer cuidar dos pobres. Mas virá o dia em que os pobres tratarão dos ricos.”
Capítulo 8 – Violência, Revolta e Democracia em Ruínas
Vivemos em democracias cercadas por grades invisíveis. Vota-se, sim. Mas fora da urna, cresce o silêncio, a raiva, a exclusão — e a violência.
A violência que se alastra nas sociedades ditas democráticas não é acidente. É sintoma. É resposta. É grito.
A pobreza extrema não produz apenas fome — produz desespero. E o desespero, quando se torna colectivo, explode.
A sociedade contemporânea recusa ver esta ligação. Prefere tratar a violência como questão de polícia, de marginalidade, de má-educação. Mas raramente pergunta: o que leva um jovem a incendiar o bairro onde nasceu? A saquear o supermercado onde sempre foi tratado como suspeito?
A resposta está na miséria crónica, na humilhação quotidiana, no desemprego hereditário, nas escolas que não ensinam, nos hospitais que não atendem, nos tribunais que não protegem.
A pobreza não é apenas ausência de recursos — é ausência de horizonte. É o peso de uma vida sem saída, onde a frustração fermenta, onde a revolta amadurece em silêncio.
E quando o grito explode em violência, os governantes fingem surpresa. Mas nada é mais previsível do que a fúria dos abandonados.
Não há democracia verdadeira onde metade da população vive em insegurança alimentar, onde bairros inteiros são esquecidos, onde o Estado só chega com a tropa de choque.
A violência urbana, os motins, os confrontos com a polícia, os ataques aleatórios — não nascem do acaso. São filhos da exclusão sistemática.
Muitos políticos alimentam esta violência sem o saber — ou sabendo demasiado bem. Porque a violência também serve: justifica estados de emergência, aumento de policiamento, vigilância digital, restrição de liberdades.
Assim, a democracia converte-se num espectáculo de fachada. Garante-se o voto, mas mata-se o direito. Mantém-se a aparência, mas implode-se o pacto social.
Quando os pobres gritam, queimam, saqueiam, não é por ódio cego. É por desespero organizado. Por cansaço acumulado. Por décadas de promessas traídas.
A violência dos pobres não é natural. É provocada. Alimentada por um sistema que os quer calados — e se espanta quando respondem com fogo.
A verdadeira violência não está nos protestos, mas nos salários miseráveis, nos despejos sem apelo, na falta de acesso à justiça. Está na indiferença fria dos que tudo têm perante os que já não têm nada a perder.
E se não mudarmos esta equação, virá o dia em que o colapso não será apenas económico — será civilizacional. Porque nenhuma sociedade sobrevive à fúria dos que foram empurrados para o abismo.
Epígrafe Final
“Enquanto houver um só homem a dormir nas ruas, um só corpo a morrer de fome, uma só criança a nascer condenada, nenhuma civilização poderá chamar-se justa — nem livre, nem democrática.” — Francisco Gonçalves